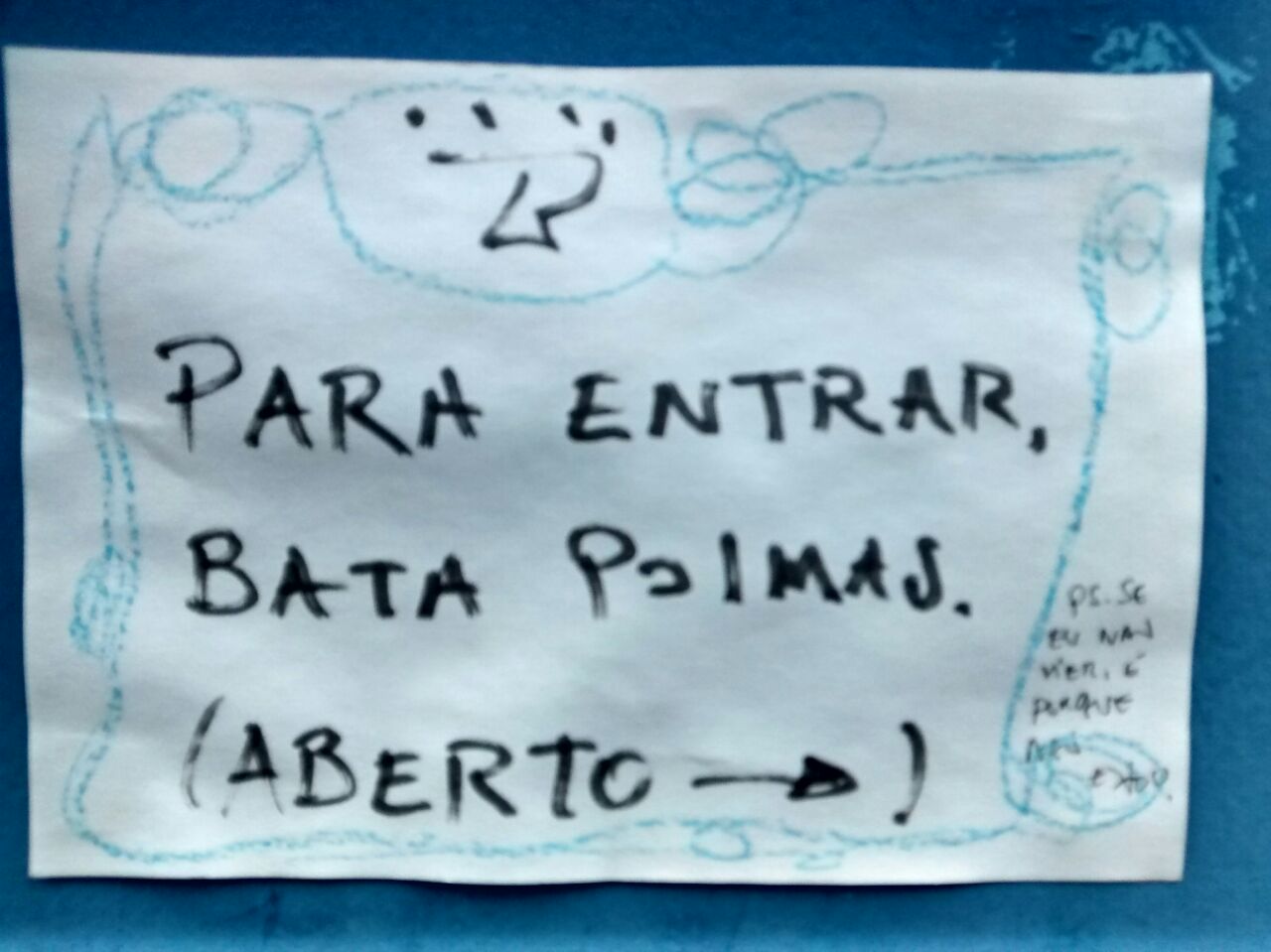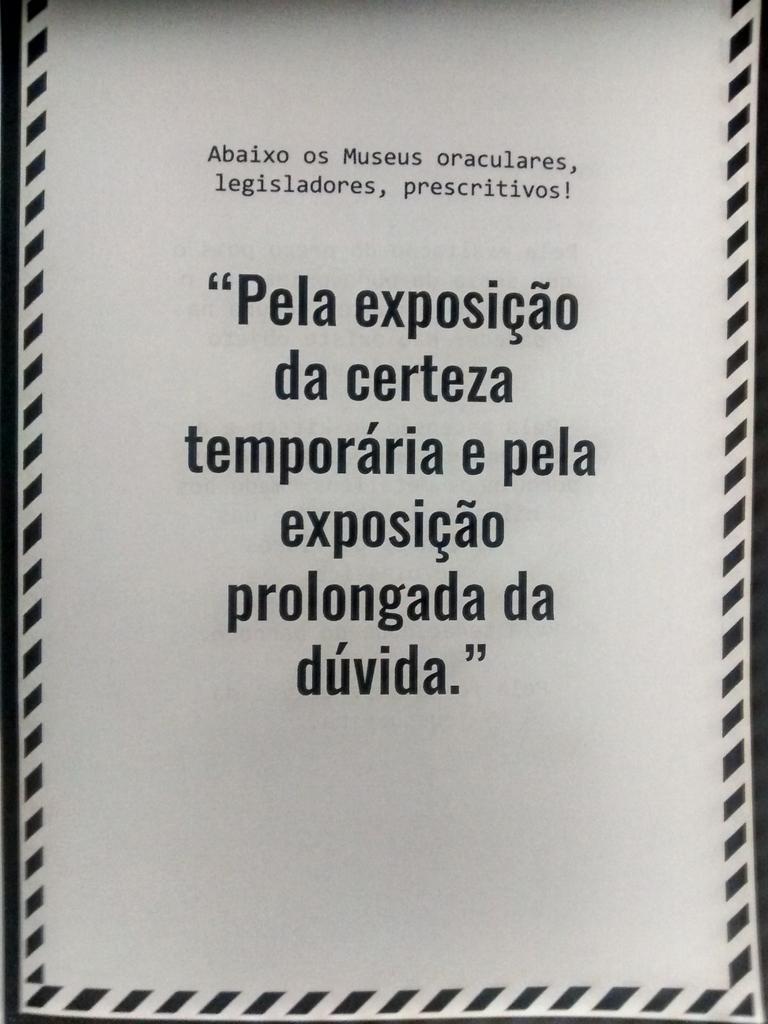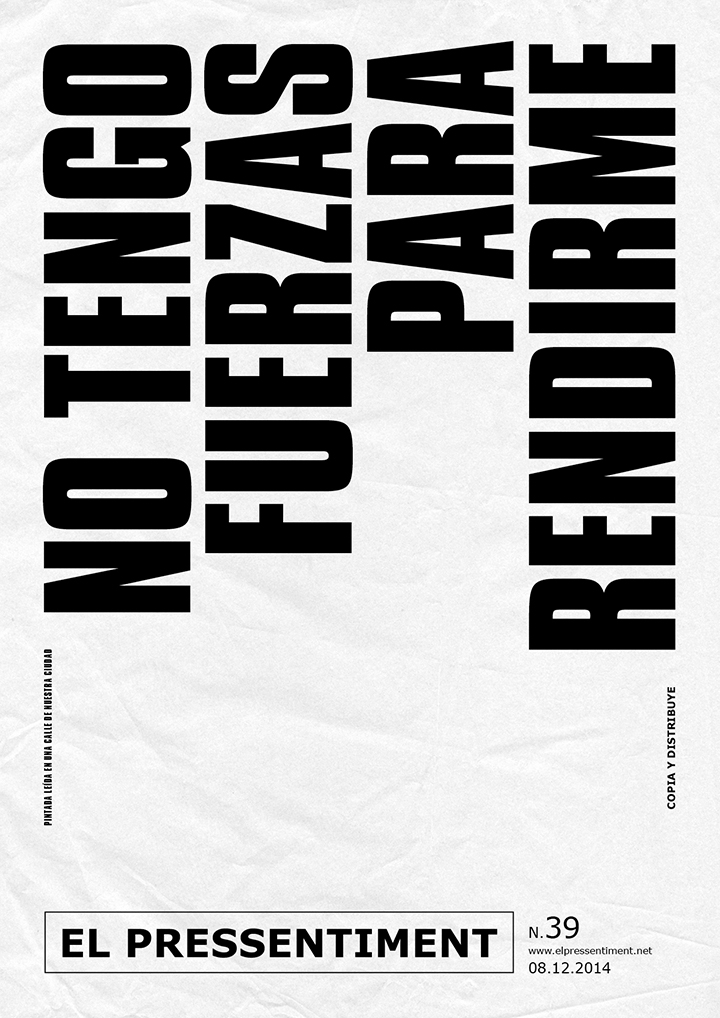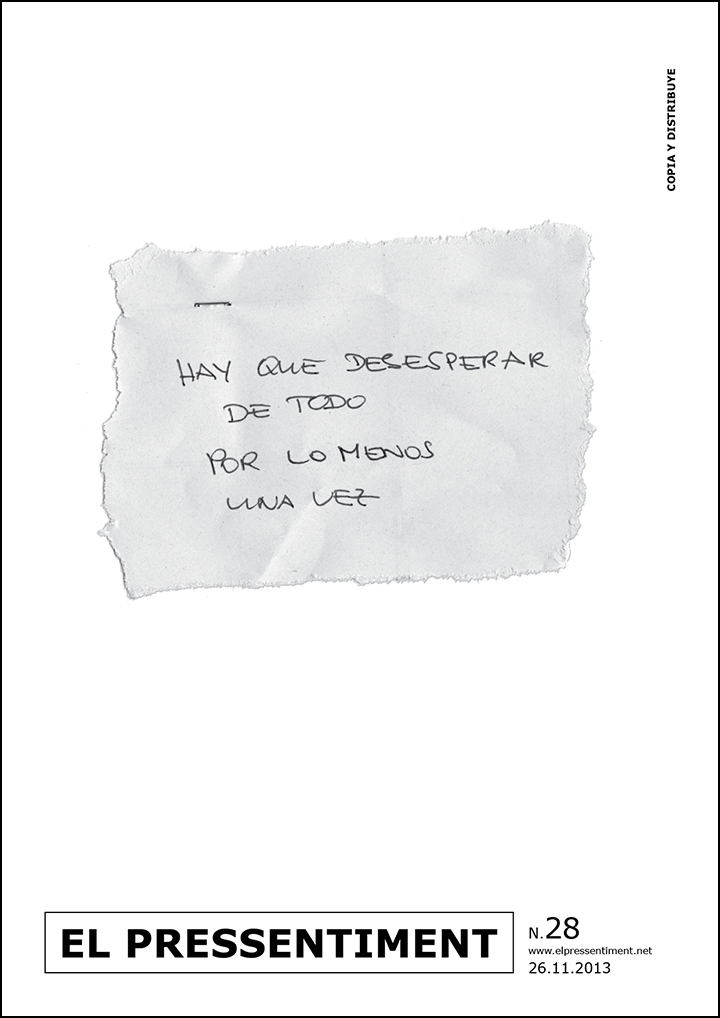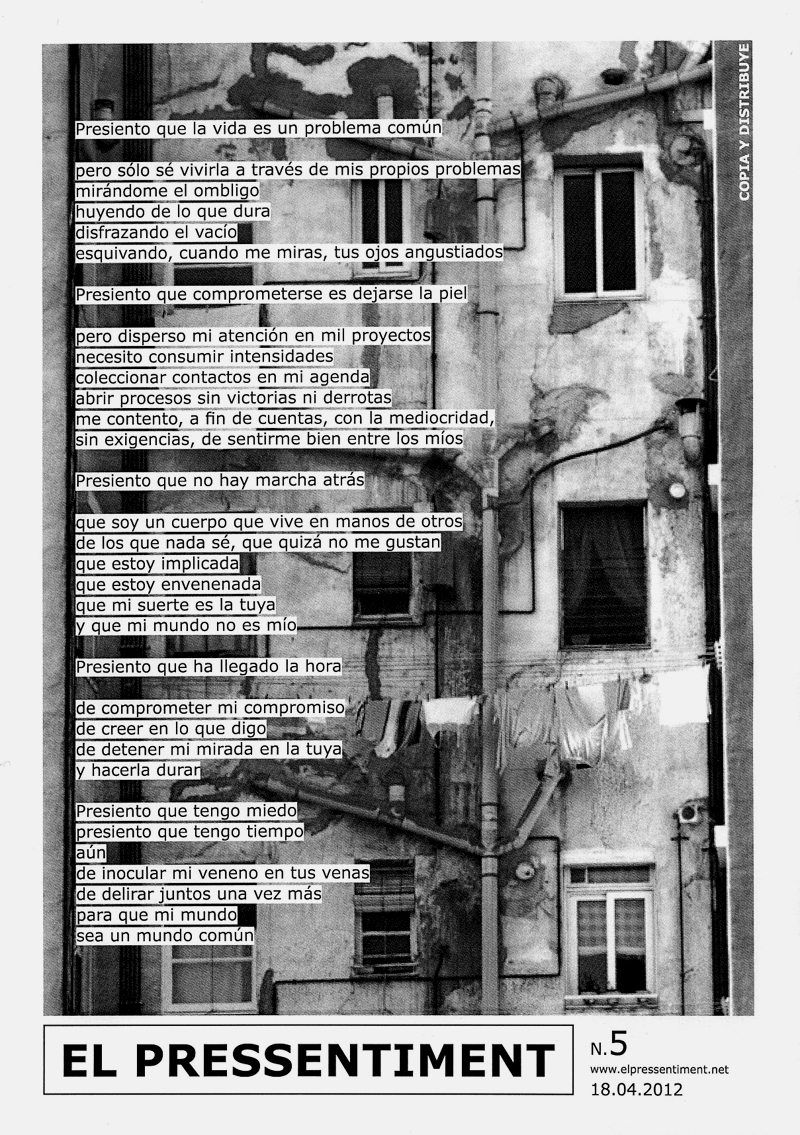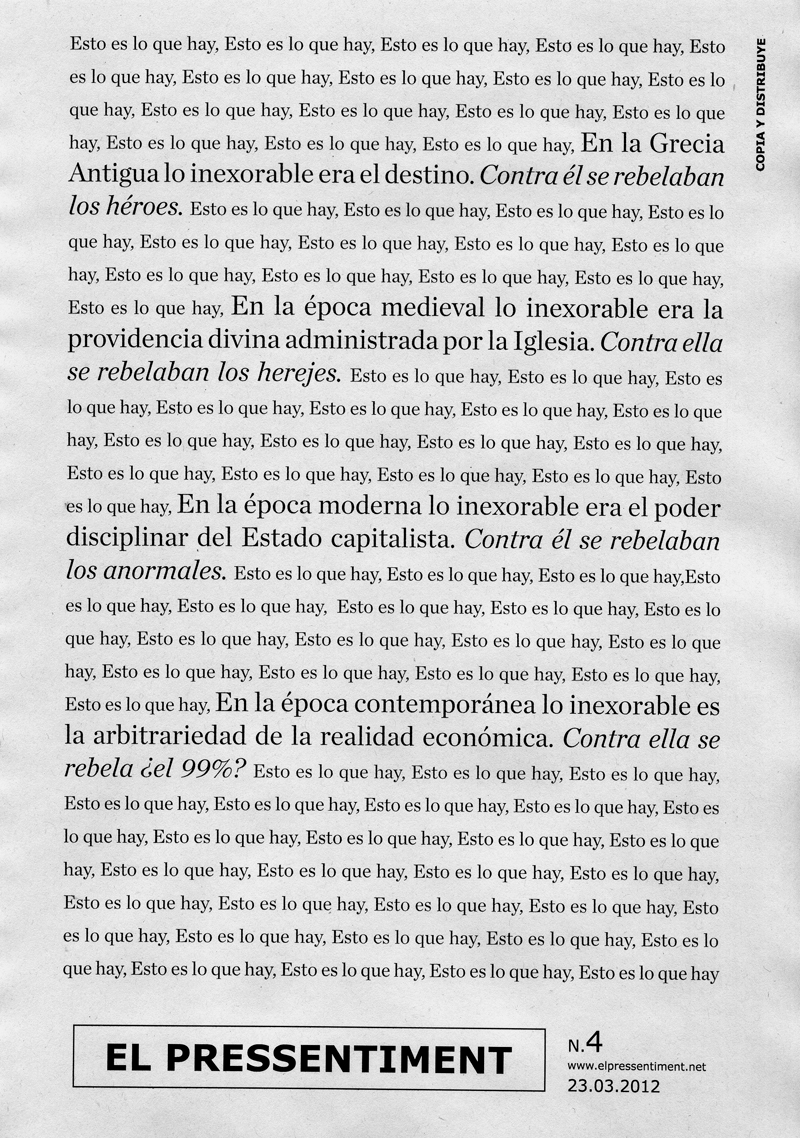Nas últimas semanas estive envolvido na organização do III Encontro SUL das Produtoras Culturais Colaborativas, uma rede que participo desde 2014 e que envolve uma série de pessoas, coletivos e organizações de três regiões do Brasil (norte, nordeste e sul). Dentre muitas ideias fritantes que sempre surgem em um evento como esse, quatro dias de discussões com gente muito interessante de todo o país, separei três pensatas que me vieram após a mesa “Comunicação e Cultura Livre em tempos bicudos”, que ocorreu no dia 5/10, e que foram digeridas pelo meu incosciente nesses 5 dias que separam a mesa desse texto. Segue abaixo, sem me alongar muito em cada uma porque, por hora, só são pensatas mesmo, a serem desenvolvidas em outro momento:
1) Quem termina uma faculdade de jornalismo está, cada vez mais, formando seus próprios projetos, não mais trabalhando no que ainda resta da mídia de massa. A crise de postos de trabalhos no jornalismo dito mainstream pode ser o maior motivo, mas também há outros, como o “apagão” que vive o jornalismo brasileiro desde final de 2013, especialmente a partir das eleições de 2014 e ainda mais depois do golpe, o que faz com que muitxs estudantxs (em especial xs mais críticxs, fatalmente ligado a universidades públicas, mas não só) não queiram mais trabalhar nesses lugares e busquem alternativas. A presença de dois coletivos de jornalistas recém formados e/ou em formação com falas nessa linha, somado à diversas iniciativas que tenho visto em semanas acadêmicas de cursos de comunicação, e ainda outros projetos surgindo (como esse) para ajudar a formar esses novos projetos, endossa essa realidade. Sempre foi assim? Não creio: pelo menos há 10 anos atrás, quando me formei, formar seu próprio veículo e/ou empreendimento era um pensamento praticamente inexistente nas aulas de jornalismo na minha universidade e, arrisco a dizer, em quase todas que conheci. Esse novo cenário ainda não foi assimilado pelas faculdades de comunicação, que, quando falam em empreededorismo em sala de aula, ainda falam de negócios velhos, e de uma forma velha, muitas vezes trazendo aquele professor da administração que nada entende da área da comunicação com seus jargões business que mais cria antipatia do que simpatia pelo que significa empreender. O que leva para a segunda pensata:

2) Porque inovação ainda, majoritariamente, está relacionada a fins (muito) lucrativos? Por que inovação é mais corriqueiramente associado a um endosso do capitalismo se estamos em plena ascenção de um pós-capitalismo? Na comunicação, em especial, nos programas das raras disciplinas de empreededorismo à bibliografias de ainda mais raros concursos para professores na área, inovação tem excluído ou pouco falado em negócios sociais, associativistas ou cooperativos, ou até mesmo de modelos experimentais como laboratórios de inovação cidadã, medialabs e coletivos colaborativos (problematizo o conceito em outro momento…). O foco dessas disciplinas muitas vezes tem sido ainda em assessorias de imprensa, agências de conteúdo (um outro nome para “comunicaçaõ integrada?”), ou ainda nos veículos caça-cliques e em outros projetos que ignoram ou pouco pensam no desenvolvimento local, nas soluções livres e no pensamento crítico em relação a própria tecnologia – são projetos que, não raro, ficam mais pro lado do marketing digital do que do do jornalismo que busca trazer informação de interesse público para uma dada comunidade. A resposta pras duas perguntas do início desse parágrafo é, claro, a grana. Mas será utopia pensar em fazer comunicação de forma colaborativa, com checagem precisa e atualização mais lenta, sem fins lucrativos (o que não significa não receber pelo que faz e muito menos não ser profissional, mas apenas não visar o lucro como principal fim), e com soluções de código aberto? Talvez. Mas chamo atenção para uma certa necessidade de, nesse momento de transformação dos modelos de fazer e sustentar o jornalismo, ao menos disputar o que tem sido colocado como inovação, de modo a incluir tecnologias sociais como a utilizada na rede de produtoras culturais colaborativas, e outras formas próximas à economia solidária e o cooperativismo.

3) Processo é importante, porra! Dito de outro modo: os fins justificam os meios? Nesse quesito, costumo citar por aí um causo que aconteceu em um grande encontro da juventude, em Brasília, dezembro de 2015, com gente de todos os cantos do Brasil, organizado pela Secretaria Nacional da Juventude, orgão ligado à Secretaria Geral da Presidência, antes do golpe. Estava como ministrante, junto com Sheila Uberti (FotoLivre), de uma oficina de cobertura colaborativa com ferramentas livres para outros participantes ligados à comunicação. Mostramos softwares livres para edição, tratamento e publicação de fotos, textos e imagens, citando um pouco a questão da privacidade e de segurança da informação com ferramentas antivigilância. As cerca de 30 pessoas que estavam por ali pareciam interessadas e curiosas durante a oficina. Mas quando acabamos, nos reunimos todos numa grande mesa para discutir as pautas do dia e um dos participantes, que esteve presente durante toda a ação, falou: “Agora vamos ao que interessa, depois a gente vê essas amenidades”. Falava da reunião de pauta que ocorreria na sequência da oficina, em que discutimos os conteúdos a serem produzidos durante o evento. A fala, já escutada em versões semelhantes muitas outras vezes, é sintomática da importância que se dá ainda ao produto em nossa sociedade (e especialmente na área da comunicação), e não ao processo. Estávamos em um grupo que discutia os grandes oligopólios de mídia no Brasil, que criticava duramente a cobertura do jornalismo mainstream aos protestos nas ruas, uma cobertura apontada como enviezada, que só via os fatos por um lado (aquele do status quo, de quem dita as regras). E que publicava praticamente 100% de seu conteúdo em redes de grandes monopólios da internet (Google e Facebook), em que todo o processo de produção passava por ferramentas desses grandes grupos (mensageiros como WhatsApp, softwares de edição da Adobe, sistemas operacionais proprietários Windows e Mac). O uso das tecnologias nos processos de produção culturais (e comunicacionais) ainda é visto como uma amenidade. Para a maioria, em especial na comunicação, o importante é que o conteúdo seja relevante, bonito, fácil de fazer e que chegue ao maior número de pessoas, não importando se para isso se utilize caminhos proprietários que tem posturas e posições tão ou mais criticamente condenáveis do que os grandes grupos de comunicação que se critica. E isso não é uma crítica per se, apenas uma constatação. São diversas frentes de batalha que temos nestes tempos brutais que vivemos, e diante delas a maioria das pessoas tem escolhido que a das tecnologias livres não é uma causa urgente. O fim de fazer circular um conteúdo de denúncia em uma dada comunidade é mais importante do que esse conteúdo ser produzido e publicado em software livre.

Mas existem grupos (utópicos?), como a rede de Produtoras Culturais Colaborativas (e outros tantos), que ainda acham que os processos são importantes, e que ferramentas livres na condução desse processo ainda devem ser, ao menos, consideradas. Que soluções que sejam das pessoas, e não de grande corporações, são fundamentais para a construção de caminhos mais justos e igualitários pra nossa sociedade. Muitos são os desafios dessa opção pelo processo: a dificuldade de se introduzir o germe de autogestão e da responsabilidade de cada um com aquilo que faz e produz é um deles. O pouco alcance que muitas vezes os eventos e conteúdos (os “produtos”) feitos dessa maneira atingem é outro. A crônica falta de dinheiro que, em diversos momentos, especialmente aquele em que os processos democráticos estão em crise (como hoje), é outro. Todos denotam uma característica desse caminho: a lentidão. Colaborar também é insistir, muitas vezes ser chato, dedicar tempo e dinheiro que, em diversos momentos, não se tem, ainda mais no sul global onde nos situamos. Mas ninguém disse que seria fácil, não?
Fotos de Davi Adorna. Disponível no Iteia, espaço de acervo multimídia livre.